INTRODUÇÃO
O presente estudo é parte do projeto de pesquisa sobre Adolescentes do Gênero Feminino no Sistema Socioeducativo promovido no âmbito do programa de extensão de Clínica de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade Tuiuti do Paraná. Assim mesmo, aloca-se no grupo de pesquisa sobre o Direito e as práticas da Administração Pública brasileira, na linha de pesquisa sobre os instrumentos de controle sobre a Administração Pública. Tanto o projeto de extensão quanto o projeto de pesquisa se justificam pela ausência de padrões de pesquisas, consequentemente de dados, da condição e do perfil socioeconômico de adolescentes do gênero feminino que cumprem medidas de internação socioeducativas. A baixa participação das meninas no contingente total do sistema socioeducativo, que segundo o último levantamento do SINASE (referente ao ano de 2017) era de 1046 do total de 26109 adolescentes que cumpriam medidas de internação (BRASIL, 2018), é assinalada como um dos motivos da falta de interesse em conhecer e estudar as especificidades dessa parcela da população em privação de liberdade (ARANZEDO, 2015).Neste sentido, a mais ampla pesquisa realizada no âmbito nacional sobre a temática, encomendada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e concluída no ano de 2015, constata que “[s]abemos pouco ou quase nada de quem elas são” (BRASIL, 2015, p. 207) pois as estatísticas oficiais sobre o sistema socioeducativo não realizam uma análise com desdobramento dos dados com recorte de sexo ou gênero, fazendo com que seus dados fiquem invisibilizados quando somados ao contingente masculino. Assim mesmo, o relatório da pesquisa do CNJ também afirma que as pesquisas acadêmicas “ainda são bastante centradas nos adolescentes em conflito com a lei, proporcionando pouco recorte de gênero” (BRASIL, 2015, p. 207). Deste modo, a problemática central reside não tão somente na falta de pesquisas sobre os sistemas de internação, os “socioeducativos”, mas na carência de instrumentos precisos que possam realizar um diagnóstico apurado no que tange às necessidades específicas do público feminino que está contido nesses locais.
BREVE PANORAMA NORMATIVO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
Com o advento da Constituição de 1988, a ratificação da Convenção dos Direitos da Criança e a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, a percepção jurídica acerca dos direitos das crianças e dos adolescentes sofreu uma importante mudança. Passou a prevalecer o princípio da proteção integral e do melhor interesse desses jovens, tratando-os não mais como um objeto a ser tutelado pelo Estado, mas como sujeitos de direitos que merecem atenção diferenciada, pelo fato de estarem em uma fase de desenvolvimento.
Nesse sentido, a nova legislação e o novo tratamento dado às crianças e aos adolescentes representaram uma dissociação com a lei anterior, o Código de Menores, em especial com o entendimento de “situação irregular”.
Esta – ao relacionar intimamente pobreza, desvio e delinquência – enxergava na primeira um potencializador de “desajustes sociais”. Desestruturação familiar, abandono moral e parental eram vistos como algumas das principais consequências da pobreza e das maiores causas de envolvimento precoce com a criminalidade. O Estado, então, procurava intervir por meio do judiciário para destituir o poder familiar e promover a internação desses adolescentes em instituições assistencialistas que deveriam “recuperá-los” e reintegrá-los (PAULA, 2015, p. 27-43).
O Código de Menores, intimamente influenciado pela instauração do Golpe de 1964, tratava a situação irregular com extrema punição e vigilância desses adolescentes, com medidas de caráter punitivo, ainda que não houvesse uma infração penal propriamente dita (Art.1º). Na prática, a situação irregular tratava a criança e o adolescente como um objeto coordenado pelo poder estatal:
“As medidas de proteção, vigilância e assistência” mantinham completamente ausente o sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes, tornando-os “objeto de direito” e regulamentando a ampliação do poder tutelar do Estado sobre os “menores” (OLIVEIRA; SILVA, 2011, p. 85).
Assim, foram criados modelos de internação como o FUNABEM e as FEBEMs, locais onde se pretendia substituir a educação familiar, em tese, deficitária, identificando os erros cometidos dentro do lar por aqueles que deveriam educar e corrigindo-os (PAULA, 2015, p. 27-43).
“(…) As FEBEM’s, além de exercer o controle punitivo, o disciplinamento para o trabalho, sua missão nesse período era a reestruturação moral e disciplinar do adolescente. Tendo como referência o patrão burguês de família, o Estado passou a considerar ‘desestruturada’ toda a família e indivíduos que não se enquadrassem no modelo vigente. Nesse contexto, além da repressão aos movimentos de resistência, o Estado, através de suas instituições, também aumentou o controle e a punição dos sujeitos que fossem ‘transgressores’ dos valores morais e da ordem familiar.” (DUARTE, 2016, p. 59-60)
Nota-se, então, uma marginalização da pobreza, vinculando-a à ideia de “marginalização social e desestruturação familiar” (PAULA, 2015, p. 28). Além disso, marcas visíveis desse período e que contribuíram para a legitimação dessas práticas eram o racismo estrutural, o patriarcalismo e o conservadorismo.
Contudo, tal modelo foi aos poucos se encaminhando para o fracasso. Naquela época, a internação era regra, pois o que se queria era tirar a criança ou adolescente do espaço social em que habitava. Sendo assim, fatores como a superlotação das unidades eram cada vez mais frequentes, junto com a precariedade dos espaços e a falta de profissionais adequados para o atendimento daquele tipo específico de público.
Dessa maneira, as problemáticas oriundas do confinamento e da segregação social se multiplicavam. Em suma, um cenário projetado para a proteção incidia, na verdade, em graves violações a direitos (BRASIL, 2020, p. 15). A partir de então, novas práticas seriam necessárias, observando o princípio da convivência familiar e comunitária.
Com a chegada da Constituição Federal de 1988, principalmente em razão dos artigos 227 e 228, entendeu-se a criança e o adolescente como sujeito de direitos. E, através desses mesmos artigos, foi sancionada a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), revogando o Código de Menores de 1979 e a lei de criação da FUNABEM.
Mas, ainda assim, as práticas adotadas pelos códigos revogados persistiam nos ambientes de internação, bem como o próprio FUNABEM se perpetuou até os anos 1990. Tais práticas correcionais e repressivas estavam enraizadas e somente a legislação brasileira não era por si só capaz de alterá-las por completo.
Contudo, principalmente em razão das tentativas do Brasil em se adequar às medidas normativas internacionais aprovadas nos anos de 1980 (como, por exemplo, os Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil – Princípios Orientadores de Riad, em 1988; a Convenção sobre os Direitos das Crianças, em 1989; e a Regra das Nações Unidas para a Proteção dos Menores Privados de Liberdade, em 1990), as práticas anteriores já não mais podiam prosperar.
De modo geral, especialmente na América Latina e Caribe, as regras da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança conviveram de forma contraditória com as legislações de menores. No entanto, o exemplo brasileiro desencadeou um processo inovador de reformas legislativas, pela adequação das leis domésticas ao tratado, favorecendo, dessa forma, que a Convenção não restasse como mais um instrumento de direito internacional de escassa exigibilidade. Pelo contrário, seu surgimento e difusão coincidiram com a transição democrática em muitos países latino-americanos (SPOSATO, 2011, p. 40).
Portanto, a partir de tais mudanças nacionais adotadas, advindas de critérios internacionais, o processo e assimilação da doutrina da proteção integral foi, aos poucos, renovando o poder punitivo estatal exercido sobre as crianças e adolescentes.
Convém destacar que, apesar das práticas referentes às medidas privativas de liberdade terem adotado um critério mais humano e voltado para a dignidade da pessoa, tal qual a Carta Magna apregoa, as medidas socioeducativas não deixam de ser instrumentos de controle estatal que atingem, como se verá posteriormente, a parcela mais carente da população.
Esse contexto acaba por gerar o que se via anteriormente: a criminalização da pobreza. A punição e o controle estatal são:
“(…) internalizados enquanto prática pedagógica que se inscreve e é produzida e reproduzida incessantemente numa sociabilidade autoritária.” (SERRA, 2011, p. 03)
Para Wacquant:
“A regulamentação da pobreza permanente […]”, justamente por darem enfoque à minimização dos “riscos” que essa população produz, estando “as burocracias encarregadas de tratar a insegurança social no cotidiano” (2001, p. 127).
Assim, ainda que o Estado tenha conferido um maior garantismo legal, utiliza-se das mesmas instituições, contudo com uma nova roupagem, para o combate da criminalidade. Dessa maneira, as condutas repressivas e autoritárias são reelaboradas pelo poder jurídico.
Mas, voltando à pauta anteriormente abordada, percebe-se que de fato houve a institucionalização de uma nova doutrina para o tratamento de crianças e adolescentes em conflito com a lei: uma nova régua “garantista”, ainda que seja para dar novos contornos, na contemporaneidade democrática, para as instituições de aprisionamento destinadas aos adolescentes privados de liberdade.
2.1 A Proteção Integral do Adolescente em Conflito com a Lei e o SINASE
De forma inicial, cumpre evidenciar algumas informações e situar historicamente a principal instituição estatal que será utilizada no presente artigo como base para coleta de dados e posterior análise.
Como revisado no capítulo anterior, com a chegada da democracia e com a mudança paradigmática no tratamento de crianças e adolescentes pelo ordenamento jurídico, criou-se, portanto, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, estabelecido através da Resolução nº 119, sendo aprovado e publicado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, no ano de 2006.
Assim, segundo Maria Lúcia Karam:
“A intervenção do sistema penal […] torna-se a propagandeada solução para todos os apontados males, sendo apresentada, em todo o mundo, por políticos dos mais variados matizes […] como instrumento de transformação social.” (2013, p. 01)
Seguindo esse raciocínio, a partir da Lei 12.594/2012, criou-se um conjunto de regras, critérios e princípios para a execução das medidas socioeducativas, como também se instituiu o SINASE, a fim de garantir a implantação dos planos, políticas e programas específicos para o atendimento de adolescentes em conflito com a lei.
Nesse sentido:
“Através do sistema socioeducativo, estão previstas articulações entre as políticas sociais básicas, assistência social, proteção especial e garantia de direitos humanos.”
Contudo, deve-se destacar que, ainda que tratem de forma diferenciada o adolescente, pela sua condição especial de desenvolvimento, a medida de privação de liberdade possui natureza jurídica penal.
A lei possui três Títulos. O Título I objetiva discorrer sobre o que é o SINASE, sua competência, programas, planos de atendimento, financiamento, etc. Já o Título II trata da Execução das Medidas Socioeducativas, ou seja, dos procedimentos que devem ser adotados.
Nessa etapa, há nove princípios norteadores que as medidas socioeducativas devem seguir:
-
- Legalidade
-
- Excepcionalidade
-
- Prioridade
-
- Proporcionalidade e brevidade da medida
-
- Individualização
-
- Mínima intervenção
-
- Não discriminação do adolescente
-
- Fortalecimento dos vínculos
(Art. 35)
(Fonte: ROCHA, Helena de Souza; PENICHE, Luiza Bateli; DE PAULO, Tharyne Zaltron Ribeiro. Instrumentos de coleta de dados para pesquisas no sistema socioeducativo feminino. Revista Direito UTP, v.2, n.2, jul./dez. 2021, p. 232-246)
O objetivo de tais princípios é garantir que o processo de execução tenha um caráter educativo. Assim, o Plano de Atendimento deve ser realizado com o intuito de contemplar tais princípios.
Por fim, o Título III dispõe sobre as Disposições Finais e Transitórias. É cediço que, com a chegada de uma nova lei, há implicações em mudanças estruturais no que vinha sendo adotado anteriormente, dando novos contornos e entendimentos a determinados assuntos. Nesse caso, não houve diferença. Por isso, foi concedido o prazo de seis (6) meses a um (1) ano para adequação e reordenação das Unidades Socioeducativas.
Contudo, como bem destaca Duarte:
“O SINASE não prossegue na discussão de gênero, mesmo sendo uma lei recente, mantém a perspectiva androcêntrica. Nesse sentido, a problematização acerca do tema não pode ser transferida ou indexada em uma nova lei, mas primordialmente discutida a partir das próprias lacunas deixadas no Ecriad e, mais recentemente, no SINASE.”
(DUARTE, 2016, p. 81)
Mas, é bem verdade que, a fim de verificar se as diretrizes e os princípios estabelecidos pela lei estão sendo cumpridos, o SINASE, bem como outras instituições, elaboram relatórios anuais. Para tanto, investigam o perfil dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, como também mapeiam outros dados acerca das unidades e do número de menores que estão inseridos nesse contexto.
Tudo isso para analisar se as exigências legais são cumpridas e se os programas de atendimento socioeducativo seguem os parâmetros adequados.
Ocorre que, tanto as leis quanto as pesquisas realizadas trazem pouco ou quase nenhum enfoque na questão de gênero, invisibilizando as necessidades e questões específicas femininas.
Segundo Duarte:
“Essa afirmativa se constitui a partir da própria Lei que institui o SINASE, dos seus 90 artigos, a palavra gênero aparece apenas uma vez em seu Art. 35. Ainda assim, gênero, dentro da legislação, é utilizada como equivalente à palavra sexo de perspectiva semântica, com viés reducionista biológico. Não considera os determinantes sociais que contribuem na permanência de papéis socialmente construídos, que demarcam situações de subalternidades e desigualdades de gênero no contexto social.”
(DUARTE, 2016, p. 81)
A partir dessa perspectiva, nota-se que a legislação, tal como as pesquisas e inspeções realizadas, encontram-se omissas a respeito de parâmetros ou discussões sobre adolescentes do gênero feminino.
3. Últimos Dados Oficiais do Sistema Socioeducativo: As Meninas Invisíveis
Observou-se até aqui que o sistema de justiça da infância e adolescência é pautado pela responsabilização e proteção social. Sendo assim, para que se efetive da melhor maneira a proteção, é necessária a verificação e o monitoramento dos locais de detenção, bem como o acompanhamento das adolescentes após o cumprimento da medida socioeducativa.
A partir dessa perspectiva, apresenta-se abaixo um panorama dos dados oficiais onde foi realizado o recorte de gênero, a fim de analisar o que se apresenta posteriormente.
(Fonte: ROCHA, Helena de Souza; PENICHE, Luiza Bateli; DE PAULO, Tharyne Zaltron Ribeiro. Revista Direito UTP, v.2, n.2, jul./dez. 2021, p. 232-246)
De acordo com o último relatório do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo), do ano de 2017, o total de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa foi de 26.109.
Em relação ao gênero dos adolescentes do Sistema Socioeducativo, do total de juvenis atendidos em 2017:
-
- 25.063 eram do sexo masculino
-
- 1.046 do sexo feminino
Ou seja, diferente do que se vê na população brasileira geral, onde o número de mulheres é maior que o de homens, no socioeducativo esses números se invertem expressivamente.
No que diz respeito ao número de internações, segundo a análise de 2017:
-
- 17.168 adolescentes do sexo masculino
-
- 643 adolescentes do sexo feminino
Dentre as meninas, de acordo com o levantamento de 2021, 86 estavam grávidas e 85 possuíam filhos. Sobre tais pontos, nenhum outro dado mais específico foi levantado.
Segundo o documento:
“Em relação ao recorte ‘gênero’, as mulheres representavam 51,5% da população residente e os homens, 48,5%, não sendo observada alteração nesses percentuais entre 2012 e 2016, segundo o IBGE (2017). No Sistema Socioeducativo, o número de adolescentes do gênero masculino sempre foi maior que o feminino. Houve uma queda de 5% a 4% entre 2014 e 2016, mas em 2017 aumentou para 5%.”
(BRASIL, 2017, p.35)
Quanto às unidades de internação (2017):
-
- 416 masculinas
-
- 33 femininas
-
- 35 mistas (ambos os sexos)
O número total de adolescentes em restrição e privação de liberdade no mesmo ano foi de:
-
- 17.168 do sexo masculino
-
- 677 do sexo feminino
Sobre a identidade de gênero e sexualidade, o único dado disponível foi a quantidade de 21 adolescentes com identidades não cisnormativas, divididos entre as unidades federadas.
Além disso, os demais dados de recorte de gênero disponíveis são limitados a faixa etária, raça, tipos de atos infracionais cometidos e capacidade de vagas, sem detalhamento sobre atendimento, saúde, educação ou monitoramento específico dessas meninas.
Quanto à questão étnico-racial, o CNJ, em seu último relatório, observou:
“A informação sobre a cor/raça/etnia das adolescentes não estava presente em praticamente nenhum dos processos e PIAs avaliados. Nas visitas às unidades, entretanto, ficava evidente a predominância de adolescentes não brancas. Apenas em Pernambuco e São Paulo este dado é fornecido de forma mais sistemática. No Pará, por exemplo, a menção aparece em apenas dois processos, nos quais as adolescentes se declaram pardas.”
(BRASIL, 2015, p. 23)
Essa ausência de dados torna difícil ou quase impossível traçar o perfil socioeconômico das adolescentes internadas, visto que os levantamentos são voltados apenas para indicadores quantitativos básicos.
Assim, a precariedade dos estudos sobre o público feminino no sistema socioeducativo é evidente, diante da falta de dados aprofundados e específicos.
4. Pontos a Serem Observados: Análise de Critérios Nacionais e Internacionais Adotados pelo Estado Brasileiro
Segundo o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos Suely de Souza Almeida da UFRJ, em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral da ONU adotou as Regras das Nações Unidas para Proteção dos Menores Privados de Liberdade.
Essas regras norteiam os órgãos brasileiros responsáveis pelo monitoramento dos locais de privação de liberdade de jovens infratores.
O presente artigo abordará os parâmetros nacionais e internacionais conjuntamente, relacionando as normas internacionais com a legislação brasileira.
Antes de adentrar os parâmetros, é necessário entender como o sistema socioeducativo é coordenado e executado no Brasil.
De acordo com o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE – 2013), o artigo 204, inciso I, da Constituição Federal estabelece as diretrizes de descentralização e participação popular na assistência social, sendo:
-
- União: cria normas gerais
-
- Estados e Municípios: executam e coordenam os programas
A execução da política socioeducativa é, portanto, responsabilidade dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Segundo o Guia Teórico e Prático de Medidas Socioeducativas (ILANUD / UNICEF):
“[…] as diretrizes político-administrativas constantes da Constituição Federal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente formatam um sistema de cooperação e distribuição de competências entre União, estados e municípios, estendendo-se, em alguns casos, a organizações não-governamentais e sociedade civil organizada.”
(Sposato et al., 2004, p.21)
Apesar dessa divisão, os entes devem trabalhar de forma articulada, visando o melhor atendimento aos jovens.
4.1 Semiliberdade
Prevista no artigo 112, V, do ECA, a semiliberdade consiste na permanência do adolescente recluso apenas à noite, podendo durante o dia estudar ou trabalhar.
As unidades devem ter no máximo 15 jovens e apresentar um projeto pedagógico contemplando:
-
- Escolarização
-
- Profissionalização
-
- Estrutura física adequada
-
- Sanções disciplinares
-
- Desenvolvimento da sexualidade
-
- Diferenças de gênero
-
- Atenção à saúde mental e dependência química
(Sposato et al., 2004, p. 56)
Além disso:
“As instituições de semiliberdade devem, portanto, aproximar-se da estrutura de uma casa, geralmente construída com quartos, sala e cozinha.”
(Sposato et al., 2004, p.121)
4.2 Internação
A internação é a medida socioeducativa mais grave, prevista no artigo 112, VI, do ECA.
Deve ser cumprida em unidades com até 40 internos, segundo o artigo 1º da Resolução nº de 1996 do CONANDA, com cada unidade ligada a uma Vara da Infância e Juventude.
Todo o corpo técnico deve ser admitido por concurso público e passar por formação e capacitação contínua.
O Guia Prático de Monitoramento de Locais de Detenção, elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos, destaca:
“O corpo técnico deverá ser competente e contar com um número suficiente de especialistas, como educadores, instrutores profissionais, assessores, assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos.”
(Gorenstein et al., 2015, p.225)
Além disso:
“O pessoal dos locais de privação de liberdade receberá capacitação periódica especializada, com atenção especial ao caráter social da função e aos direitos humanos.”
(Gorenstein et al., 2015, p.228)
A Resolução nº de 1996 do CONANDA, artigo 3º, determina que cada unidade deve estar integrada a serviços como:
-
- Educação
-
- Saúde
-
- Esporte e lazer
-
- Assistência social
-
- Profissionalização
-
- Cultura
-
- Segurança
Segundo as Regras da ONU para Proteção de Jovens Privados de Liberdade, recomendação nº 81:
“O pessoal deve ser qualificado e incluir um número suficiente de especialistas como educadores, técnicos de formação profissional, conselheiros, assistentes sociais, psiquiatras e psicólogos.”
Instalações Físicas
Segundo o ECA, artigo 94, incisos III e VII, as unidades devem:
-
- Oferecer atendimento personalizado em pequenos grupos
-
- Garantir instalações adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança
A ONU, nas regras 31 a 37, reforça pontos como:
-
- Dormitórios para pequenos grupos ou individuais
-
- Vigilância discreta
-
- Privacidade nos banheiros
-
- Roupas de cama individuais
Educação
A regra 38 da ONU e o artigo 94, §2º do ECA recomendam que a educação dos internos aconteça preferencialmente fora das unidades de privação de liberdade, utilizando os recursos da comunidade.
Saúde e Atenção Especial às Meninas
A legislação internacional, entre os artigos 49 a 55 das Regras da ONU, traz normas específicas sobre:
-
- Atendimento médico
-
- Saúde reprodutiva
-
- Serviços ginecológicos e pediátricos
O Princípio X dos Princípios e Boas Práticas para Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas determina que meninas devem ter:
“Atendimento médico especializado que atenda suas necessidades físicas, biológicas e de saúde reprodutiva.”
Além disso, segundo o Guia Prático da Secretaria de Direitos Humanos:
“As adolescentes privadas de liberdade apresentam maior índice de transtornos mentais, maior probabilidade de terem sido vítimas de abuso físico e sexual, e por isso o risco de auto-lesão e suicídio é maior.”
Condições Gerais nas Unidades
Outros aspectos fundamentais a serem observados incluem:
-
- Alimentação
-
- Água potável
-
- Higiene pessoal
-
- Instalações sanitárias
-
- Visitas íntimas
-
- Contato com o mundo externo
-
- Liberdade religiosa
-
- Exercícios ao ar livre
-
- Iluminação e ventilação
-
- Vestuário e roupa de cama
Todas essas condições estão previstas nas Regras da ONU para Proteção de Jovens Privados de Liberdade.
Por fim, os dados existentes mostram que esses parâmetros muitas vezes não são respeitados, o que expõe os adolescentes a graves violações de direitos.
Aqui está o trecho de Considerações Finais formatado de forma acadêmica, clara e objetiva:
Considerações Finais
O presente artigo realizou uma análise histórica do atendimento anteriormente prestado às crianças e adolescentes em conflito com a lei, evidenciando as transformações ocorridas com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Apresentou-se um panorama sobre como devem ocorrer os atendimentos no âmbito socioeducativo, além de disponibilizar os dados oficiais existentes em nível nacional. Destacou-se, ainda, a invisibilidade dos dados acerca da população feminina que cumpre medidas socioeducativas, reforçando a importância de pesquisas específicas sobre esse público.
Diante da explanação sobre os parâmetros nacionais e internacionais que devem orientar as unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, tornou-se viável a elaboração de formulários específicos que podem ser aplicados junto às unidades de internação do sistema socioeducativo feminino.
Por meio das respostas aos quesitos constantes nesses instrumentos de coleta, será possível obter dados mais precisos e detalhados sobre o sistema socioeducativo feminino no Estado do Paraná. Esses dados permitirão aferir:
-
- A qualidade dos serviços ofertados
-
- O acesso à saúde e educação
-
- A qualidade das instalações físicas
-
- O perfil socioeconômico das adolescentes internadas
-
- Os tipos de atos infracionais cometidos por elas
Com base nessas informações, será possível verificar de forma objetiva se há violações de direitos humanos nas unidades de internação destinadas ao público feminino, colaborando para o aprimoramento das políticas públicas na área.

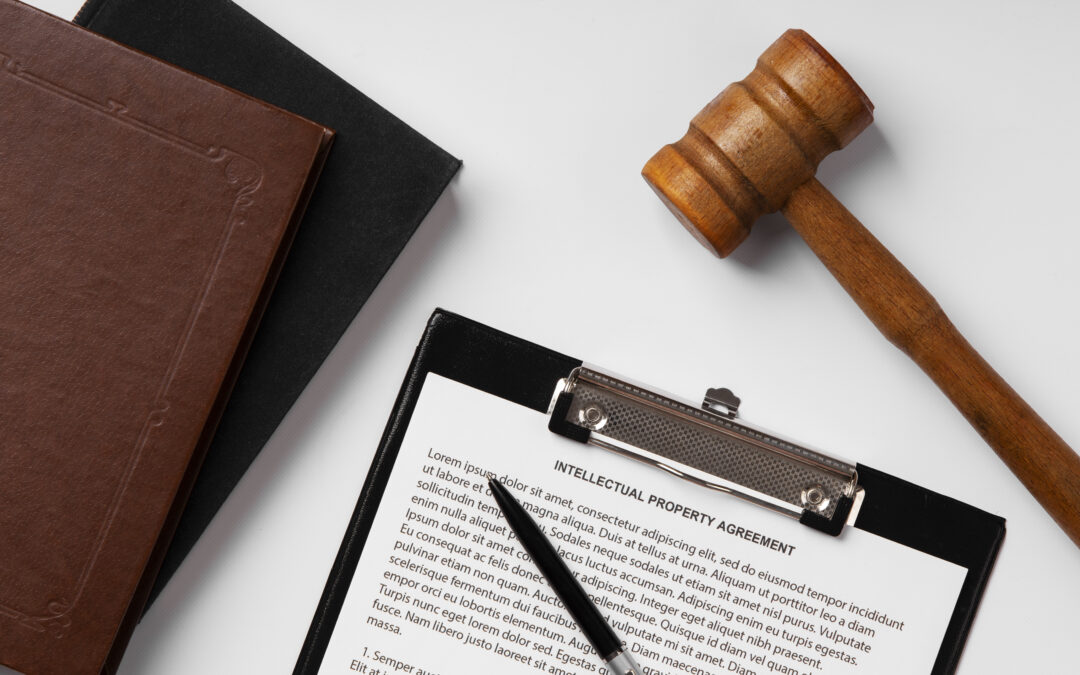
Comentários